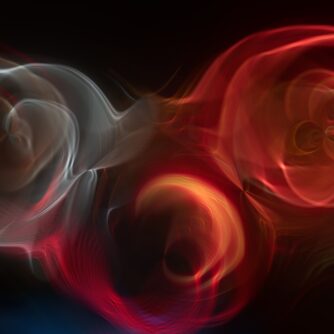por Marcus Telles, em 14/03/2020. Última edição em 18/03.
Alguns textos interessantes do século XX falam da nossa dificuldade de “compreender”: de reunir em um único juízo sinóptico eventos dispersos. Toda nossa existência intersubjetiva se dá por compreensão, mas a ação responsável no mundo contemporâneo nos demanda compreensões muito complexas, que não sabemos realizar sem algum tipo de cultivo. E no entanto, o tipo de educação que recebemos, o tipo de afeto dominante em nossa sociedade e o excesso de estímulos disponíveis nos puxam para o outro lado, o dos raciocínios simplórios e descomplexificadores. (O que é muito diferente da simplicidade elegante de uma boa síntese histórica ou uma fórmula científica, que só surgem ao final de um longo mergulho na complexidade.)
Por exemplo, se olho uma roupa à venda e desejo comprá-la, preciso vê-la à luz de minhas aspirações mais profundas (que incluem não causar sofrimento) e juntar os pontos: olhar para a roupa e ver nela tudo que sei sobre sua cadeia de produção; também ver nela toda a sua utilidade futura, avaliando se ela realmente produzirá as experiências que espero que ela produza. Vale também pro peito de frango no supermercado, e, agora, vale também para a decisão de ir ou não a um local aglomerado, lavar ou não as mãos com frequência, etc.
Os casos do coronavírus e da catástrofe climática nos demandam habilidades cognitivas que temos, conjuntamente, muito pouco desenvolvidas. Pois devemos “compreender” coisas que não são automaticamente apresentadas aos sentidos. Não temos apenas que reunir eventos passados e futuros, o que já é bastante difícil. Não temos apenas que reconhecer que a imagem que produzimos é inseparável dos nossos próprios referenciais internos (desejos, emoções, pressupostos), o que demanda a difícil capacidade de estar presente com as próprias emoções e a difícil aspiração de superar o hábito que os existencialistas chamavam de má-fé.
Não, o coronavírus e a catástrofe climática nos demandam mais: que incluamos na compreensão também fatores que, mesmo sem serem perceptíveis e frequentemente operando no campo da probabilidade, têm força causal. Meus olhos não vêem sequer um vírus, quanto mais minha possível participação na transmissão de um vírus que possivelmente resultará na morte de outras pessoas, e no entanto as duas coisas são reais. É fácil conceber que pessoas que não puxariam um gatilho ou dirigiriam bêbadas a 200 km/h arrisquem um número maior de vidas por um certo embotamento mental que as impede de colocar a pergunta sobre o risco à coletividade produzido por comportamentos seus – quando não hábitos surgidos originalmente sem qualquer intenção de causar danos. A pessoa não decide participar de uma cadeia de eventos futuros, ela apenas decide ir ao bar lotado ou à igreja – mas a ida ao bar é parte da cadeia de eventos futuros.
Ao ver uma certa cadeia causal, idealmente eu saberia antever alguns efeitos (embora não todos, pois algo do futuro é sempre aberto). Mas resta a questão de quais desfechos são desejáveis, e adicionalmente a questão de quais desejos são desejáveis. Por isso é tão importante aquilo que o Alan Wallace chama de “cultivation of wise desires“, o cultivo de desejos com sabedoria.
Examine bem na sua experiência se, quando falam “coronavírus”, não te surge apenas uma imagem vaga. Examine bem se essa imagem não tende ou para o lado de “não é nada tão sério” ou para o lado de “estamos completamente fodidos”. Nenhuma delas é uma compreensão útil que nos permite formular um mapeamento realista de como proceder daqui pra frente. Tentar pensar a complexidade da situação realisticamente, e não por meio de imagens vagas, nos livraria um pouco da oscilação entre negligência e pânico.
O coronavírus, para tornar a situação um pouco mais complicada, é transmissível antes dos sintomas se manifestarem. Então ele nos põe o desafio de lidar com probabilidades e pautar nossas ações a partir delas. Mais ainda, demanda que pensemos de maneira contrafactual. Um exemplo disso foi dado pelo Atila Iamarino (@oatila) no Twitter: quanto mais as medidas preventivas funcionarem, menos mortes ocorrerão, e portanto mais pessoas vão achar que as medidas eram desnecessárias. Quando não sabemos, nem queremos, nem queremos saber pensar nesses termos, caímos fácil em comportamentos negligentes, no melhor cenário, ou em posições como a conspiração anti-vacinas, no pior. Não deixar que essa dinâmica nos iluda de que podemos voltar à vida Business as Usual antes da hora talvez seja o maior dos desafios atuais.

Uma sociedade cujos membros não “compreendem” não tem muita chance de lidar com problemas complexos nos quais a ação de cada um afeta todo mundo. Adicionalmente, mesmo que saibamos compreender, se não temos uma visão clara de solidariedade e de interconexão, podemos até saber formular juízos complexos, mas não teremos também a motivação para tal.
Como “vemos”, com o olho da mente, o que não “vemos” com os olhos? Fazendo perguntas. São elas que guiam o que, dentro da infinitude de potencialidades do mundo, será apresentado à mente. Se estou no metrô e sou físico, sei fazer algumas perguntas; se sou historiador, ou filósofo, ou artista, sei fazer outras. Se estou tranquilo farei certas perguntas, se estou carente ou medroso farei outras. Pois bem, há uma diferença entre o tipo de imagem que nossa mente irá produzir quando nos perguntarmos “eu estou em risco?” e se nos perguntarmos “eu colocarei outras pessoas em risco?” São as diferenças entre essas perguntas que vão guiar muitos dos nossos comportamentos nos próximos dias.
São as humanidades – a história, a literatura, as artes – que mais eficazmente nos ensinam a compreender. Adicionalmente, as reflexões éticas das humanidades e de outras tradições – incluindo as ditas “espirituais”, mas não necessariamente – nos estimulam a localizar os impulsos que produzem as compreensões. Adiciono às humanidades a importância desse tipo de prática mais contemplativa pelo simples fato de que, se não soubemos parar, nos acalmar, olhar para os outros, não só não conseguimos compreender, mas também não conseguimos querer formular uma compreensão compassiva.
(Isto pode nos lembrar da importância de iniciativas que enfatizam a importância de incluir as emoções e a atenção como parte do processo educacional, inclusive, mas não só, nas escolas: iniciativas como o SEE Learning, sobre a qual o Valentin Conde falou no Coemergência #32, o Cultivating Emotional Balance, e outras mais. É verdade que temas como o “equilíbrio emocional” (e o mindfulness, e tantos outros) são muito frequentemente apropriados pelo capitalismo para manter a roda da exploração girando, agora a partir de dentro. Mas esse é um motivo a mais para nos familiarizarmos profundamente com uma dimensão que, afinal de contas, faz parte da realidade e de como podemos enxergar a realidade. É evidente que o cultivo de um coração mais aberto, da capacidade de genuinamente olhar para o outro e ver nele uma pessoalidade compartilhada, não está em contradição com a aspiração de reformular as estruturas sociais de maneiras que as potencialidades de todos os seres possam ser desenvolvidas ao máximo.)
Temos falado, com razão, da importância de levarmos a ciência a sério. Mas para querermos levar as ciências a sério, precisamos ver – e precisamos querer ver – as consequências de não o fazermos, e precisamos nos importar com as consequências. Não são operações mentais simples as que precisamos fazer, e não podem ser nem autocentradas nem preguiçosas nem irresponsáveis nossas aspirações para que, se soubermos fazê-las, queiramos fazê-las. Mas a habilidade para proceder em tantos níveis não surge por meio de uma censura moral, um “não seja egoísta” dito com raiva. Para citar uma palavra particularmente importante tanto para a filosofia da história quanto para as tradições contemplativas, é necessário “cultivo”. Para o cultivo, é necessário condições apropriadas, certamente incluindo as que se apresentam na educação formal.